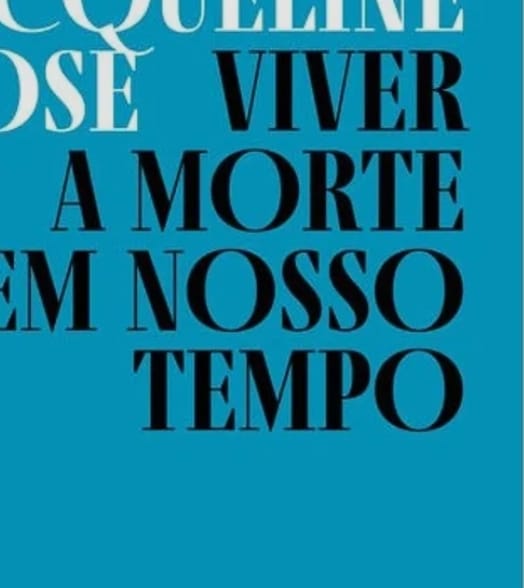por Mariana Toledo
ROSE, Jacqueline (2023) A peste: viver a morte em nosso tempo. Trad. Flavia Costa Neves Machado. São Paulo: Ed. Fósforo, 2024.
Sobreviver, enfim
Em junho de 2021, encontrava-me, junto ao restante da população mundial, imersa no que costumo nomear de “caos pandêmico” da Covid-19. Entre lockdown, álcool em gel e máscaras, muitos de nós fomos tomados pelo frenesi dos estudos online. Afinal, um pouco de alienação era preciso para escapar das garras da nuvem mortífera que pairava no ar. Uma oportunidade surgiu: por conta da pandemia, o Curso de Teoria Crítica da Birkbeck (Universidade de Londres) seria totalmente online. Atraída por nomes como Achille Mbembe e Slavoj Zizek, decidi me inscrever. Minha mais grata surpresa, entretanto, veio do contato com Jacqueline Rose, professora e codiretora do curso, que até então não conhecia. Sua primeira conferência tratava da temática que, dois anos depois, daria origem à obra A peste: viver a morte em nosso tempo.
Quase um ano depois, enquanto continuávamos testemunhando, atônitos, os absurdos desencadeados pela ação – ou inação – de líderes mundiais como Trump e Bolsonaro diante da letalidade da Covid, fomos surpreendidos pela guerra que irrompeu na Ucrânia. O cenário é análogo àquele vivido por Freud na época em que a gripe espanhola e a primeira guerra mundial assolaram a Europa. Rose parte desse paralelo para nos presentear com uma meditação pungente sobre nosso modo de vivenciar a única certeza da vida, especialmente quando ela espreita a cada esquina, em cada leito de hospital, em cada discurso mortífero vociferado perante uma nação desamparada.
Rose é escritora, psicanalista, professora e crítica literária, destacando-se como uma voz feminina potente e polêmica, em igual medida, no campo das Ciências Humanas. Também é uma voz de coragem, tocando em temas difíceis e tabus sem pudor ou inibição. Tal engajamento levou-a, inclusive, a cofundar a organização Independent Jewish Voices do Reino Unido. A iniciativa visa dar voz autônoma a judeus de diversas localidades e territórios em questões de justiça social e direitos humanos, inclusive no contexto do Oriente Médio, sem vínculo às instituições que “reivindicam a autoridade para representar toda a comunidade judaica”[1]. Os apedrejamentos sofridos por conta desse posicionamento jamais a intimidaram.
Em suas produções literárias e reflexões sociopolíticas, é conhecida por fazer uso da teoria psicanalítica como ferramenta crítica dos acontecimentos de nosso tempo, escavando as profundezas da mente humana para além do divã. Nesta recente empreitada, há um elemento de inversão: a partir de sua própria experiência individual com a pandemia, Rose desperta para uma perspectiva da obra freudiana da qual, até então, nunca havia se dado conta: a relação direta entre a criação e produção teórica de Freud à luz da catástrofe. Lança a si própria a seguinte questão: como dialogam entre si as especulações teóricas e as provações da vida? Decide compartilhar sua reflexão conosco, enriquecendo o debate com uma articulação entre o pai da psicanálise, Albert Camus e Simone Weil. De fato, nenhum momento poderia ser mais propício para esse diálogo do que o contexto de guerra e pandemia pós-2020; afinal, “[a] guerra e a pandemia desnudam a mente” (p. 45) – e nossa geração nunca esteve tão desnuda em sua realidade coletiva.
Rose retorna ao texto canônico de Freud que inaugura o dualismo pulsional, Além do princípio do prazer[2], além de recorrer a correspondências e biografias do pai da psicanálise, e constata que a morte de sua filha Sophie, vítima da gripe espanhola, desencadeou a drástica mudança de tom presente no texto que inaugura o conceito de pulsão de morte. Freud ficou profundamente abalado com essa perda. Apesar de a escrita do ensaio ter sido iniciada antes do falecimento de Sophie, o capítulo VI, onde surge pela primeira vez o termo “pulsão de morte”, foi escrito por Freud após o ocorrido. Nele, Freud introduz a ideia de que toda vida orgânica almeja a morte. Apesar da contextualização biológica aplicada pelo autor, Rose identifica o caráter político desta ponderação – que, defende, permeia a teoria freudiana como um todo (“Lembre-se de que a guerra foi o contexto essencial para o conceito de compulsão à repetição”, aponta (p. 58)). Pode-se dizer, assim, que Freud desloca ao microcosmo dos protozoários as angústias despertadas pela perda precoce de sua filha: “[…] sem a crença de que a vida deveria seguir seu curso rumo ao próprio fim, a morte repentina dela […] teria sido demais para ele suportar” (p. 56). Para Freud, essa era uma saída para dar conta do “peso da existência”.
Essa virada na metapsicologia também contornou inúmeros debates acerca da morte, da agressividade e da destruição ao longo dos anos. No contexto da recente pandemia, a própria prática clínica nos revela que tais debates ganharam novo vigor. Poderia haver sentido no horror que compartilhávamos? A ameaça invisível do vírus, a tirania dos líderes a quem precisávamos confiar nossas vidas, a destruição concretamente sinistra das bombas – tudo isso abalou as estruturas sobre as quais nos apoiávamos para seguir vivendo. Nas palavras de Rose:
Vivemos uma época de luto permanente, de acerto de contas psíquico que é demais para suportar. […] É como se o fim da ilusão, um fim que Freud ardentemente desejou em relação à crença religiosa, de repente nos surpreendesse sem aviso, convocando os medos mais profundos da alma (p. 77).
O absurdo da vida nos foi escancarado, sem escapatória. Não à toa, Camus é convidado ao diálogo. É curiosa a proximidade entre a condição do pensador argelino e os tempos da Covid: um pulmão comprometido mudou o rumo de sua vida. Camus passa a se questionar sobre o sentido da vida e da morte a partir de um diagnóstico de tuberculose, aos 17 anos, que o impediu de realizar inúmeros feitos almejados, como jogar futebol e lecionar. As angústias despertadas por essa sombra mortífera o inspiraram a produzir os inúmeros escritos em que coloca esse tema em questão, dentre eles sua ópera magna, A Peste[3] (à qual o título da obra de Rose alude) e, posteriormente, a peça teatral Estado de sítio, obras complementares que abordam o tema de uma epidemia. A Peste, destaca Rose, teve um surpreendente aumento nas vendas após a eclosão da Covid. Reflexo, pode-se afirmar, da busca generalizada e frenética por maneiras de elaborar o absurdo que nos acometeu, para a qual a literatura se revela como uma saída valiosa. Há séculos temos registros de produções literárias que caminham nessa direção, a exemplo de Um diário do ano da peste[4], de Daniel Defoe. Trata-se de um relato ficcional, publicado em 1722, inspirado pela peste bubônica que tomou de assalto a população londrina em 1665. Mais de dois séculos após sua publicação, o ator francês Jean-Louis Barrault buscava adaptar o livro de Defoe para o teatro. Pediu auxílio a Camus, que considerou entendido do assunto, já que A Peste havia sido um grande sucesso. Camus preferiu iniciar o projeto teatral do zero, dando à luz O Estado de Sítio[5].
Tanto o romance quanto a peça são interpretados como alegorias ou metáforas da segunda guerra e da guerra civil espanhola. Em ambos, o autor utiliza como fio condutor a eclosão de uma peste, sendo que o romance enfatiza seus efeitos sobre as relações sociais e a peça amplia as reflexões acerca do autoritarismo do governo naquele contexto. Esses dois elementos são intrínsecos à vivência coletiva da Covid-19, considerando a dimensão sociopolítica da crise. Testemunhamos a tirania dos governantes, a potência da necropolítica, nossa impotência diante de cada nova morte, o impacto da devastação generalizada e os efeitos da negação que deu origem ao negacionismo – tal qual o personagem de Estado de Sítio que afirma, em resposta aos gritos de que o mundo iria acabar: “O mundo sim, mas não a Espanha!”[6]. “A peste precipita uma revolução no sangue”, afirma Rose (p. 32). Reconhecemos nas palavras de Camus ecos do que vimos entrar em ebulição na pandemia da Covid:
A princípio, as pessoas tinham aceitado estarem isoladas do exterior como teriam aceitado qualquer outro inconveniente temporário que apenas perturbasse alguns de seus hábitos. Mas, subitamente conscientes de uma espécie de sequestro sob a tampa do céu em que o verão começava a crepitar, sentiam confusamente que essa reclusão lhes ameaçava toda a vida e, chegada a noite, a energia que recuperavam com o frescor lançava-os por vezes a atos de desespero.[7]
Através de um caminho interpelativo envolvente, Rose nos mostra que viver a morte no tempo da Covid significou acompanhar a contagem diária dos mortos, agonizar diante da incompetência e negligência deliberada das autoridades, prantear mortes plenamente evitáveis, tudo enquanto tentávamos seguir a vida normalmente – ou na completa anormalidade. Mas não só. A autora destaca que os abismos sociais, inclusive nos recortes de sexo, gênero, classe e raça, revelaram-se acachapantes. A possibilidade de uma experiência humana unívoca da pandemia rapidamente se provou ilusória: se, para uns, ficar em casa era a única forma de proteção, para outros era ou inacessível, ou uma condenação tão assustadora quanto o vírus. Foi o caso das vítimas de violência doméstica, por exemplo. Como destaca Rose, os índices de agressões sofridas por mulheres nas mãos de seus companheiros aumentaram drasticamente ao redor do mundo, o que permaneceu mesmo após o fim do lockdown. Os efeitos do racismo e da vulnerabilidade social também se mostraram ainda mais cruéis no cenário covidiano – as maiores vítimas do vírus em países como o próprio Brasil foram as minorias sociais.
E agora? E o depois? Os canais de Veneza não estão mais limpos, a sociedade não está mais solidária e os líderes negacionistas não estão menos tiranos. Ao mesmo tempo, sabemos que nossa vida mudou para sempre, e isso “talvez seja porque essa incapacidade de tolerar a ideia da morte – que parece ser a garantia de nossa sanidade cotidiana – se revelou como a ilusão que sempre foi” (p. 84). Com o tal “novo normal” se impondo, saber o que fazer disso se torna nosso principal desafio. Em seu discurso como vencedor do prêmio Nobel, Camus defendeu que a tarefa das novas gerações seria “impedir que o mundo se desfaça”, saldando a dívida acumulada devido à sua subserviência ao ódio e à opressão, de forma a “restabelecer […] um pouco daquilo que faz a dignidade de viver e de morrer”[8] – e talvez estejamos adentrando um território similar.
Rose encontra em Simone Weil uma voz pujante para nos conduzir por essas trilhas. Se imaginar a morte como acaso é “um ato de resistência condenado ao fracasso”, para Weil “é apenas ao admitir os limites humanos que iremos parar de nos vangloriar da ilusão vulgar de ter um poder terreno” (p. 12) – algo que parece escapar aos bilionários deste planeta, como bem lembra a autora inglesa em determinado momento do livro. No contexto da Resistência Francesa na Segunda Guerra, Weil queria se juntar aos soldados com um contingente de enfermeiras para tratar dos doentes e feridos – e, certamente, perecer com eles. Seu plano, negado e considerado insano, refletia sua crença em uma coragem que “não era ‘despertada’ pelo desejo de matar, mas pela capacidade e disponibilidade de suportar o olhar dos que morrem” (p. 20), tal qual os profissionais de saúde que se dedicaram à linha de frente da Covid – ou que hoje testemunham diariamente a morte lenta das crianças feridas em Gaza, sem ao menos acesso a anestesias. Weil defendia encarar nos olhos o horror da miséria, do abandono, da violência e da morte como um ato de amor e libertação, no sentido de uma busca por justiça social. Encarar para não sucumbir.
Weil é o exemplo perfeito de alguém que se propunha a cumprir o ato de viver em sua radicalidade. Foi trabalhar junto aos operários de uma fábrica para adquirir melhor conhecimento de suas reais condições, experiência que a apresentou para a infelicidade alheia e deu origem ao seu conceito de malheur (uma espécie de “morte em vida” decorrente da degradação sofrida nesse contexto laboral). Rose consegue percorrer com riqueza a complexa história e luta de Weil no penúltimo capítulo do livro, revelando a pertinência atual de seu pensamento – ainda mais em um contexto político pós-pandemia em que enfrentamos ataques incessantes aos direitos trabalhistas, bem como a promoção de um modo de vida ultraconectado ao trabalho pela via da tecnologia. Sua narrativa é capaz de transmitir a potência contagiante do pensamento da filósofa francesa, plantando no leitor uma esperança pelo que há por vir, tão necessária para seguirmos em frente. Afinal, “[t]oda reivindicação por justiça baseia-se na crença em um futuro possível” (p. 85). Não deixa de ser a mesma aposta que se faz em uma análise: encarar o horror para seguir adiante, em direção a novas possibilidades.
Ainda que não esteja entre suas obras de maior potência, o livro nos fará boa companhia ao desbravarmos o novo velho mundo – interior e exterior. O intuito de Rose não é oferecer respostas ou um passo-a-passo, mas sim nos proporcionar uma combinação instigante entre associações e ruminações decorrentes de sua própria vivência pandêmica e sua usual visão crítica afiada, perspicaz e provocativa, a partir das quais podemos traçar nossos próprios desdobramentos. A ótima tradução de Flavia Machado sustenta a força da narrativa da autora. Não há em sua escrita tonalidades da prepotência típica de quem “pensa que sabe”; há, sim, a segurança de quem observa atentamente, pensa criticamente, e vivencia afetivamente. Jacqueline Rose é uma mulher que tem algo a dizer e não se permite silenciar. Só temos a ganhar. ♦
REFERÊNCIAS
CAMUS, Albert (1947) A Peste. Rio de Janeiro: Record, 2017.
CAMUS, Albert (1948) Estado de sítio. Rio de Janeiro: Record, 2018.
DEFOE, Daniel (1722). A Journal of the Plague Year. Nova Iorque: Longmans, Green, and Co., 1896.
FREUD, Sigmund (1920) Além do princípio do prazer. In Freud (1917-1920) – Obras Completas Volume 14 “O homem dos lobos” e outros textos. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
MARTINS, Alexandre Andrade. A pobreza e a graça: um estudo sobre o malheur e a experiência da graça na vida e no pensamento de Simone Weil. Dissertação de mestrado. São Paulo: PUC-SP, 2011.
TODD, Olivier. Albert Camus: uma vida. Trad. Monica Stahel. Rio de Janeiro: Record, 2024.
TOLEDO, Mariana. As novas normas do anormal. In Revista Percurso. São Paulo, v. 70, n. 3, pp. 170-174, junho de 2023.
Mariana Toledo Mariana Toledo é psicanalista, Bacharel em Letras-Inglês pela FFLCH-USP e Mestre em Psicologia Clínica pelo IP-USP. Coordena o Um a Um Espaço de Psicanálise e é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi, do Laboratório de Pesquisas e Intervenções em Psicanálise (psiA) e do Departamento Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.
[1] https://ijv.org.uk/declaration/
[2] FREUD, Sigmund. (1920)) Além do princípio do prazer. In Freud (1917-1920) – Obras Completas Volume 14 “O homem dos lobos” e outros textos. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
[3] CAMUS, Albert (1947) A Peste. Rio de Janeiro: Record, 2017.
[4] DEFOE, Daniel (1722). A Journal of the Plague Year. Nova Iorque: Longmans, Green, and Co., 1896.
[5] CAMUS, Albert (1948) Estado de sítio. Rio de Janeiro: Record, 2018.
[6] CAMUS, Albert (1948) Estado de sítio. Rio de Janeiro: Record, 2018, p. 34.
[7] CAMUS, Albert (1947) A Peste. Rio de Janeiro: Record, 2017, p.97.
[8] https://razaoinadequada.com/filosofos/camus/
COMO CITAR ESTE ARTIGO | TOLEDO, Mariana (2024) Sobreviver, enfim. Lacuna: uma revista de psicanálise, São Paulo, n. -17, p. 12, 2025. Disponível em: <https://revistalacuna.com/2025/02/18/n-17-12/>.